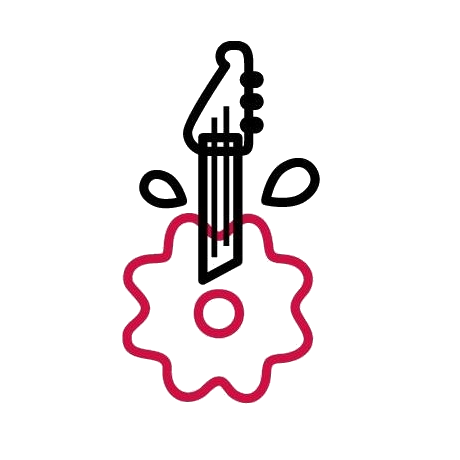Resenha: A Valsa Azul de Phillip Long

 Phillip Long é um rapaz do interior. Não pelo fato de ser natural da cidade de Araras. Phillip Long é habitante de um interior que não cabe em nenhuma cartografia, sem limites ou fronteiras conhecidas. Mais do que habitante, é também mensageiro – ou melhor: menestrel. Acompanhado de seu violão e da sua voz, ele é responsável por versos sinceros que tocam nas cordas mais sensíveis do espírito de quem os ouve. Talvez por toda essa profundidade, o nome do seu novo disco, A Blue Waltz, o oitavo da carreira, carregue de maneira muito acertada a cor azul – profundamente espiritual e interna segundo Kandinsky.
Phillip Long é um rapaz do interior. Não pelo fato de ser natural da cidade de Araras. Phillip Long é habitante de um interior que não cabe em nenhuma cartografia, sem limites ou fronteiras conhecidas. Mais do que habitante, é também mensageiro – ou melhor: menestrel. Acompanhado de seu violão e da sua voz, ele é responsável por versos sinceros que tocam nas cordas mais sensíveis do espírito de quem os ouve. Talvez por toda essa profundidade, o nome do seu novo disco, A Blue Waltz, o oitavo da carreira, carregue de maneira muito acertada a cor azul – profundamente espiritual e interna segundo Kandinsky.
Era noite fria de sexta quando saiu o disco. No sofá, ansiosos, Tati e eu dividíamos o cobertor com Jade e Nalinha, as gatas da casa. Ainda durante a tarde a animação era grande, o perfil pessoal do Phill estava agitado, já com questionamentos sobre quando o disco seria liberado. Algumas atualizadas depois na página dele e lá está o link disponível. Ainda temos dez minutos antes de poder ouvir, já que as promessas dos serviços de banda larga estão piores que promessas políticas. Enquanto esperávamos o download ser concluído, chá para mim e cigarros para ela, já Nalinha e Jade se contentavam em tirar um daqueles cochilos de dar inveja a qualquer um que não seja gato.
Dois cigarros e uma xícara de chá depois, finalmente estávamos prontos para ouvir aquele que eu desconfiava que seria, até o momento, o disco mais radical do jovem que em pouco mais de três anos de carreira chegava a seu oitavo disco. Explico. Os sete discos anteriores haviam sido produzidos e arranjados por Eduardo Kusdra, produtor musical e instrumentista talentosíssimo de Araras, que fez um trabalho de muito cuidado e sensibilidade em cada um deles, traduzindo de maneira clara o que cada música queria dizer e às vezes implementando-as com harmonias e instrumentações que me faziam abrir a boca de espanto. Sendo assim, a minha carga extra de curiosidade era mais que natural e compreensiva. Pensei no que isso poderia acarretar, como, por exemplo, uma queda na qualidade de registros, mixagens e afins. Então, me aconcheguei no sofá, com cobertor e companhia e apertei o play, deixando para verificar depois as imagens que acompanham o arquivo.
Nos primeiros minutos eu já havia sido transportado para fora de mim. Parece exagero, mas só quem não sabe que a música, como toda forma de arte, nos tira da realidade vulgar é capaz de pensar assim. O que aconteceu foi um mergulho em um abismo de mim, ou em um reflexo de mim projetado na música de Phillip Long (a mesma música que é também uma projeção do cantor e compositor, o que transformou a audição do disco em um verdadeiro jogo de espelhos). Mesmo eu, que costumo revisitar os meus labirintos afetivos a cada audição que faço dos discos sobre os quais escrevo, me surpreendi ao perceber que dessa vez não havia um fio de Ariadne que me fizesse voltar em segurança e mesmo assim resolvi seguir sem medo.
O que encontrei por lá foram fotografias penduradas nas paredes, onde estavam congeladas imagens do primeiro violão, dos amigos que ficaram e também dos que se foram, do primeiro cigarro e da primeira decepção amorosa, das vezes que precisei lutar para convencer aos outros e a mim mesmo que era essa a minha estrada, das vezes que também precisei lutar para ter amor e para dar amor. Confesso que não sei quais dessas memórias eram realmente minhas. Cada faixa era como uma porta guardando preciosidades emocionais atrás de si. A forte presença da guitarra, fazendo acompanhamentos melódicos sensíveis, seguida por linhas de baixo muito bem colocadas, dando ao disco características marcantes e uma identidade diferenciada dos trabalhos anteriores, talvez um tanto mais intuitiva na criação em conjunto. A bateria, que era outro instrumento não tão comum nas antigas canções, faz um trabalho fundamental para firmar essa identidade, calcada em bandas britânicas dos anos 80.
Só fui trazido de volta quando ouvi a voz carinhosa e macia da Tati me perguntando:
— Você está chorando?
— Se não for o cisco mais bonito que já entrou no meu olho, então sim, acho que estou chorando.
Phillip Long sempre me pareceu ser o tipo de pessoa que usa a arte como forma de expressar a sua relação com o mundo, sem se importar com questões de mercado e mídia, preocupando-se apenas em criar, em dar vida e voz ao que acontece dentro de si. Um artista que está conectado com seu eu profundo, sem se importar com as caduquices de quem acredita que acredita que o mais seguro é nunca deixar a água passar dos joelhos. Me lembro bem da primeira entrevista que fiz com ele, foi para a revista Café Espacial. Mesmo com a entrevista sendo feita por mensagens, dava pra perceber que ele foi cordial, atencioso e sempre preocupado em explicar pacientemente qualquer questão. Pois bem, disso é o que me lembro, pois foi o que aconteceu. No entanto, talvez seja melhor inventar novas lembranças, não por que as que existem não sejam suficientes para pintar o rosto do sensível artista que é Phillip Long, mas para assim aproximar qualquer pessoa da atmosfera quase mística que envolve as suas músicas. As coisas que inventamos são tão ou mais importantes que as coisas que realmente aconteceram, isso é o que a obra de Manoel de Barros nos ensina, linha por linha. Foi pensando nisso que o convidei para um (não) bate-papo na manhã seguinte ao lançamento.
(Não) marcamos então para não tomarmos um café no Irish Tea, um lugar muito requintado que (não) existe nas proximidades do apartamento da Tati, na Vila Olímpia. Às nove e meia eu já (não) aguardava em uma mesa ao lado da janela, (não) tomando uma xícara de café sem açúcar só para ter certeza de que o mundo lá fora não é tão amargo assim. Lugar vazio, apenas alguns rostos ainda sonolentos e garçons que fingiam não estar ali (o que para mim era bom, já que eu também não estava). Coloquei os fones e mais uma vez coloquei o disco para tocar, já que ainda faltavam trinta minutos para o horário combinado. Aproveito para rabiscar qualquer coisa no caderno de anotações, quase que automaticamente e me espanto ao perceber que estava escrevendo uma parte da letra de Lionheart, do segundo disco do Phill. Ouço atentamente as três primeiras faixas, para ter certeza de qual seria a minha primeira pergunta
Às nove e quarenta e cinco ele (não) chega – antes mais cedo do que nunca, pensei. Cumprimentamo-nos com um demorado abraço e nos sentamos. Ele parece muito à vontade. Pede um chá e olha ao redor com serenidade e com um sorriso de contentamento, talvez em resposta do meu. Jogamos um pouco de conversa fora e devoro um pão de queijo (saco vazio não para em pé, já dizia a minha avó) antes de darmos início à entrevista. Hesito ainda uma ou duas vezes antes de fazer a primeira pergunta.
— Eu quero começar perguntando sobre a sonoridade do disco, sobre uma certa aura oitentista que percebi enquanto o ouvia. Não sei se é por que eu estava ansioso pelo disco que você está ou estava preparando com versões do The Smiths e isso ficou na minha cabeça, mas me pareceu bem próximo disso, quase um prelúdio ou fruto da sua imersão na discografia da banda (o que amplia também o horizonte de quem está acostumado a te ouvir de outra maneira). Foi intencional? É algo que germinou na sua alma e está florescendo? Ou eu só estou viajando mesmo?
— Eu mergulhei na atmosfera e nos climas das bandas inglesas da década de 80, em especial The Smiths, na forma como o Morrisey sabia como dizer essas coisas pesadas e tristes, nesse lance de deixar uma canção violenta, arrastada e pesada em algo ainda dançante. Nessa espécie de ritual que o Morrissey sempre fez.
— Sabe que, tanto esteticamente quanto afetivamente, esse disco está realmente me soando como o início de um novo ciclo, e olha que eu achava que o Seven era o início de um e não o encerramento – falei.
— Eu e o Duzão (Eduardo Kusdra) havíamos deixado de trabalhar juntos e eu sentia que eu precisava levar minha música para outra atmosfera. Eu sempre carreguei minha música de referências e dessa vez não foi diferente. A maior diferença foi no sentido de abrir os horizontes para outras referências que não o folk, eu precisava dar esse salto, eu precisava me arriscar mais, dar novo significado para minha música. E The Smiths foi um pilar pra esse disco, e ainda está florescendo, mesmo. Eu ainda vou trabalhar bastante nessa onda. Morrissey mudou minha perspectiva, porque eu abordava temas próximos, essa melancolia e tristeza sempre carregadas em meu disco, agora eu elevei tudo isso e transformei num ritual mesmo.
Fala com calma, com simplicidade, sem ares de superioridade artística ou algo parecido. De canto de olho, percebo que a manhã vai se descortinando um pouco mais clara, ainda fria, é verdade, mas desfilando cenas de rara beleza, como o vento a balançar a as folhas da árvore plantada na calçada em frente. A beleza do mundo está mesmo nas coisas pequenas, constato. Rapidamente me lembro da notícia sobre o show de lançamento do disco, no qual ele seria acompanhado por banda completa, formada pelo coletivo Pau de Arara, que foi fundamental para a realização de A Blue Waltz.
— Como estão os preparativos para o show? Me parece que será feito de forma diferente também, condizendo com essa nova fase.
— Toda a intenção está amarrada, o show, a arte. No palco, por exemplo, nós temos projeções de imagens, temos um artista plástico pintando em simultâneo, temos intervenções poéticas. Eu sinto que essa atmosfera é onde estarei trabalhando durante os próximos discos. E The Smiths é a maior referência pro meu trabalho de agora. O lance da forma como minha voz flui e etc. São as referências aliadas à minha experiência com o mundo. Eu me sinto um artista mais forte agora, muito mais. Muito mais capaz de dar a intenção que sempre quis pra minha música, e isso é uma dádiva.
Aproveito então para saber um pouco mais sobre o coletivo, que é formado por Leonardo Araújo, Guima, Danilo Carandina, Gustavo Arcerito, Danilo Scanavini, Enzo Petrucci, Maike Jean, Thyago Villela, Ciro Bertolucci, Pedro Spigolon e o próprio Phill. Ao que ele responde:
— O coletivo surgiu da necessidade de termos força aqui em Araras, de termos como levar nosso trabalho para outro nível. Araras tem uma geração muito forte em mãos, e por vezes negligencia isso. Então nós resolvemos nos unir pra nos ajudarmos, para levarmos nossas artes a outro nível, para produzirmos cada aspecto de nossas criações, para podermos levar isso tudo a outras esferas, outros lugares. E o A Blue Waltz já teve a participação efetiva dessa união…
Meu celular toca e interrompe a fala. Que tipo de jornalista deixa o celular ligado durante uma entrevista? Penso comigo mesmo. Nesse momento respiro fundo e aliviado, me lembrando de que não sou de fato jornalista, o que tira um peso enorme das minhas costas. Phill parece não se importar e insiste para que eu atenda, diz que vai até o balcão comprar cigarros, já que estava em falta deles e frente a essa ocasião resolvo verificar quem é e me surpreendo. Falo ao telefone por pouco tempo, enquanto ele retorna com os cigarros.
— Era a Lô. Ligou pra saber se estávamos nos dando bem – digo.
— E estamos? – pergunta rindo. – Ela pediu pra te mandar um beijo, recado que eu daria ao fim da conversa, mas parece que não vou precisar mais – esclarece rindo.
Lô e Phill são irmãos, e a primeira é uma unanimidade quando o assunto é carinho. Não há um filho de Deus que eu conheça que não fale dela com o melhor dos afetos. É também grande entusiasta da carreira do irmão desde o início e uma pessoa preciosa que o tempo me apresentou.
— Onde estávamos? – me pergunta.
—Você estava falando sobre o coletivo Pau de Arara.
— Ah, sim. É verdade. Bem, a banda é toda formada por amigos do coletivo, a gravação do disco foi toda feita pelo coletivo, nós gravamos no estúdio do Enzo Petrucci, meu amigo e que também faz parte dele. Todo o show foi produzido pelo coletivo, isso gera uma força impressionante.
— Imagino que isso deva fazer uma diferença enorme.
— Sim, sem dúvida! Eu sempre estive muito sozinho lutando para que minha música respirasse, e agora tem uma legião de caras incríveis comigo, artistas, com trabalhos incríveis, vibrando no mesmo sentido. Em breve vão sair mais discos e produções dessa parceria. O Carandina, que toca guitarra comigo, está prestes a lançar o dele, com o coletivo ajudando também, o Ciro Bertolucci vem com um novo em breve, o Guima também. Enfim, nós estamos nos movendo, agora com mais força.
Olho para o relógio pendurado na parede de tijolos à mostra, típico dos lugares “descolados” da cidade, e percebo que já era hora de ir. O momento é perfeito, já que minha intenção nunca foi a de desvelar todo o disco, mas deixar o maior número de pontas soltas possíveis, para que cada um possa reconstruí-lo com seus próprios códigos e signos. Desligo o gravador e pago a conta satisfeito, mais pelo encontro com um amigo do que por estar com uma boa entrevista em mãos. Na despedida, promessas de visitas futuras e noites de bebedeira ao som de um violão.
É aí que percebo que o disco estava recomeçando, deixei no repeat e Tidal Wave vinha novamente me inundar. Sugestivo, não? Retiro os fones e olho ao redor, as mesas pouco cômodas da padaria agora ocupadas com gente falando alto e fazendo os talheres tilintarem com força; o balcão cheio e o típico barulho da chapa trabalhando enchendo o ambiente. Apenas eu. Ninguém mais além de mim e um universo espelhado em forma de disco. Busquei repouso na paisagem da janela (carros barulhentos e transeuntes apressados) antes de pagar realmente a conta, fechar o notebook e me levantar.
Ainda antes de deixar a padaria, o telefone toca. No meio do barulho e da confusão do horário de almoço, quase não o escuto. Atendo e ouço a voz da Tati do outro lado:
— E aí, como foi?
— Foi a melhor entrevista que eu não fiz, sobre um dos melhores discos que eu já ouvi.
Recommended Posts

Lori | Cuore ApertoLori
novembro 16, 2023

Ronná apresenta “Meio Eu”
outubro 27, 2023

AIACE | EU ANDAVA COMO SE FOSSE VOAR
outubro 06, 2023